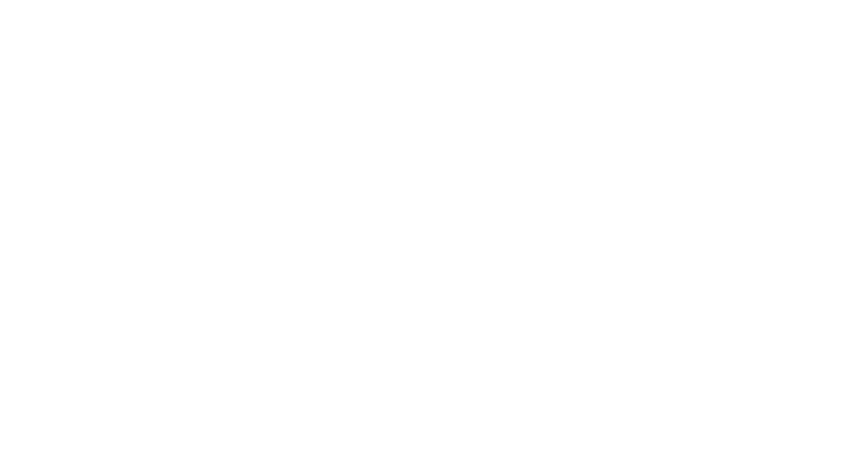O mundo acadêmico nacional está perplexo com o que considera ameaças à universidade pública e à pesquisa em geral no Brasil. Alguns já até anunciam a morte prematura da instituição. Outros propõem extravagantes reformas, supostamente para contrapor críticas ao atual modelo.
Em 1977, foi publicado nesta Folha artigo de minha autoria denominado “As sete pragas da universidade brasileira”. Eram analisadas as principais doenças da instituição. A primeira delas era a prática do regime de tempo parcial, que tinha como consequências o “professor caixeiro-viajante” – desnutrido física e intelectualmente, ganha seu pão itinerantemente, sem tempo de se atualizar e se dedicar à pesquisa- e o “professor diletante” – advogados, médicos e engenheiros que, movidos quase sempre por vaidade, nas horas vagas se transvestem de professores universitários.
Não há hoje quem não reconheça que, em uma única geração acadêmica, a evolução tenha sido expressiva. Embora ainda existam redutos de transgressão do tempo integral e contingentes remanescentes de docentes em tempo parcial, essa prática já é condenada universalmente e considerada uma distorção. Podemos afirmar que a cultura universitária, sob esse aspecto, já evoluiu a ponto de tornar inexorável a prevalência do tempo integral (dedicação exclusiva).
A segunda praga foi, há vinte e poucos anos, a vitaliciedade prematura e o consequente imobilismo dos pesquisadores. As melhores universidades do mundo industrializado só agregam definitivamente seus professores após anos -mesmo décadas- de avaliação intelectual do professor. Sob esse aspecto houve algum progresso, mas não o suficiente. A USP, por exemplo, impede a contratação de professores sem doutoramento. A Unicamp também, nas unidades menos atrasadas. Nas demais usa uma série de artifícios para exigir o doutoramento dos docentes.
A terceira desgraça, o isolacionismo, tinha origem na mediocridade de seu corpo docente – consequência do imobilismo de seus pesquisadores devido à baixa incidência do tempo integral, à vitaliciedade e à escassez de cursos de pós-graduação etc. Hoje, graças ao apoio ao programa de pós-doutoramento no exterior a ao de professores visitantes no Brasil, essa doença está em extinção.
O quarto infortúnio era a burocracia. Esperávamos que, com a conquista da autonomia das universidades públicas paulistas, há cerca de dez anos, o rito burocrático, viria a ser eliminado ou amenizado. Somos obrigados a reconhecer que, sob esse aspecto, não houve melhora perceptível nas universidades.
A quinta desdita era uma tendência à crescente compartimentalização, que a reduz a uma sequência de células sem interação intelectual. Sob esse aspecto não houve, também, progresso apreciável, a despeito do crescente prestígio de atividades interdisciplinares.
A sexta desventura era o gigantismo. Àquela época já havia, no âmbito acadêmico internacional, a convicção que as universidades perdiam eficiência e qualidade quando passavam de uma certa dimensão. É claro que esse limiar deveria variar com as respectivas culturas nacionais e outras condições locais, mas não restavam dúvidas que muitas universidades públicas brasileiras já haviam ultrapassado as dimensões ideais. Sob esse aspecto não houve progressos. Pior, observou-se um grave retrocesso e, hoje, rondam ameaças de mediocrizante massificação. O próprio governo federal intensifica a massificação ao oferecer adicionais salariais por aula dada. Professor universitário que não faz pesquisa se mediocriza, passa a ser um mascate para um aluno que passa a avaliar o conhecimento apenas como mercadoria. Forçadas por contingências semelhantes, as universidades estaduais paulistas, onde 50% da ciência nacional é gerada, permitem a proliferação de cursos de valor cultural duvidoso. Embora o momento seja de confusão, é pouco provável que essa onda populista se mantenha por tempo suficiente para comprometer o que já foi alcançado.
A sétima e mais insidiosa praga foi considerada, àquela época, a ausência de autonomia. Naquele tempo não percebíamos o quão impregnada de corporativismo interno estava essa questão. Para melhor entender o problema, concentremo-nos aqui num exemplar acontecimento que é a escolha do reitor.
Há duas décadas, ainda imersa em regime autoritário, a sociedade ansiava por democracia. A universidade combatera ardorosamente a ditadura. Não é de surpreender que procurasse estender princípios tão inequívocos de democracia para seu próprio ambiente. Até então, reconhecendo a legitimidade da escolha do reitor pelo Estado, como representante da sociedade que mantinha a universidade e a quem ela servia, aceitava-se a escolha do reitor pelo Executivo, orientado por uma lista tríplice elaborada pelo Conselho Universitário, órgão supremo da instituição. Nos EUA, uma comissão de busca, ou de seleção, é indicada para encontrar e avaliar potenciais candidatos. Essa comissão é constituída -pelo menos majoritariamente- por notáveis que não pertencem aos quadros da universidade. Com frequência a escolha de candidatos é restrita a intelectuais externos à universidade em questão.
Espera-se, assim, amenizar o corporativismo interno. Em outros países industrializados, as escolhas são feitas pelo Estado. O Brasil é o único país do mundo em que os dirigentes universitários são escolhidos por sufrágio universal. A Unicamp e a Federal de São Carlos permitem a candidatura de professores de outras universidades, todavia a realidade é outra. Reitores são, na prática, eleitos pela comunidade interna, pois governadores e ministros, por omissão, demagogia ou desconhecimento do princípio democrático, se limitam a confirmar o primeiro da lista tríplice.
O resultado é que o jogo de interesses interno acaba determinando o resultado das eleições. Feudos se instalam, facções que representam interesses pessoais passam a controlar a universidade. O corporativismo é sempre gerado pela insegurança – quanto maior o nível acadêmico, maior a insegurança do medíocre. O processo eleitoral começa dois anos antes, por vezes. Os que têm atividades de pesquisa, os que trabalham, acabam não se envolvendo. E o politiqueiro profissional corporativista acaba dominando a escolha do reitor.
Infelizmente nesse aspecto a universidade nada evoluiu. E esse mal interno poderá vir a comprometer seu futuro. Se há uma verdadeira ameaça de extinção ou massificação, ela vem do interior da universidade. Ainda é necessário derrotar o corporativismo interno e a massificação mediocrizante.
Créditos de imagem: caputconsultoria.com.br
*Publicado no jornal FSP de 01 de outubro de 2000.