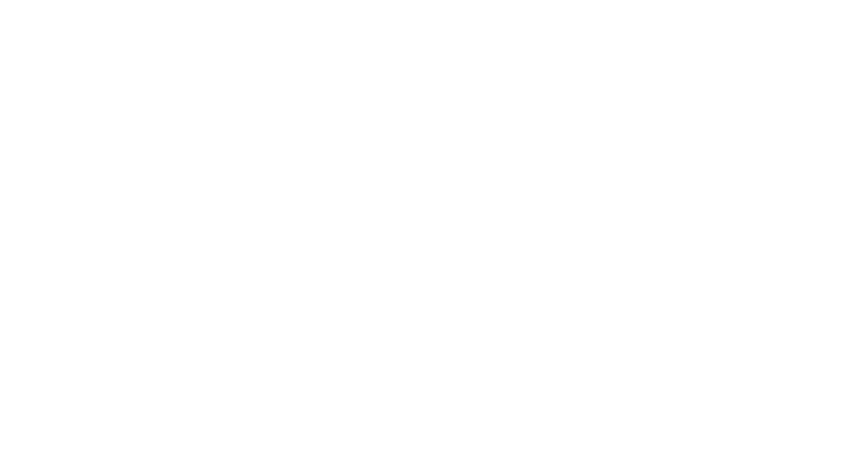(Entrevista concedida por Bertrand Badie, cientista político e diretor da pós-graduação em relações internacionais do Instituto de Estudos Políticos de Paris, a Sciences Po)
Por Angela Boldrini e Philippe Scerb
Por que o Estado Islâmico decidiu atacar agora?
É extremamente claro. É a intervenção francesa na Síria e no Iraque, e, como pano de fundo, a política de intervenção geral da França, especialmente no Mali. Há, de qualquer forma, uma aceleração das reações do Estado Islâmico: em uma semana um avião russo foi abatido, provavelmente em um atentado do EI, e em seguida houve o ataque contra o Hizbullah [organização xiita do Líbano], reivindicado por eles.
O que mostra essa aceleração?
Que eles estão mudando de estratégia, internacionalizando-a. Provavelmente porque o EI se sente ameaçado pelos ataques em seus territórios e também porque há vontade estratégica de mostrar que não é só um conflito localizado na Síria e no Iraque, mas que se opõe, como eles dizem, a todo o mundo dos “cruzados”.
Por que as medidas de segurança tomadas depois dos atentados de janeiro não funcionaram?
Porque ninguém sabe lutar contra esse tipo de violência. Como você quer lutar contra indivíduos que estão dispostos a dar a vida para matar? Eu acho que são a política externa da França e, talvez, sua política de integração nacional que devem ser revistas, mais do que a política repressiva, que muito dificilmente é 100% exitosa.
Por que os atentados visaram a França, e não outros países que lutam contra o EI?
Porque a França tem uma política internacional muito mais favorável à intervenção exterior, particularmente no Oriente Médio, que os outros países ocidentais. Todo mundo sabe das reservas de Barack Obama, que ficou um pouco sem opção quanto a se engajar nessa ação por causa da execução terrível do jornalista americano James Foley [decapitado pelo EI em 2014].
A maioria da Europa, que, como a Alemanha, é não intervencionista, fica bem menos exposta que a França.
O governo francês escolheu, paradoxalmente, intervir contra o regime do sírio Bashar al-Assad, em agosto de 2013, mas não foi seguido por ninguém [e desistiu], e depois contra o Estado Islâmico, em 2014.
Recentemente, ainda deu um passo além, deixando de atuar só no Iraque para agir sobre o território sírio. Tudo isso mostra um nível de intervenção muito maior.
A França também está em conflitos na África…
As ações no Oriente Médio são reforçadas por uma intervenção no Sahel [região da África subsaariana] e na República Centro-Africana. E a França tem um papel importante na tentativa de parar o grupo nigeriano Boko Haram, que é aliado do EI.
Por que o governo francês adota essa política?
A França, na época que o neoconservadorismo estava no poder nos Estados Unidos, era muito crítica à política de intervenção americana. Nós nos lembramos da hostilidade do ex-presidente Jacques Chirac [1995 a 2007] à entrada no Iraque.
E, depois, quando esses neoconservadores saíram da Casa Branca, a impressão é que os franceses não perceberam a mudança de direção da política externa norte-americana.
Os sucessores de Chirac, Nicolas Sarkozy e François Hollande, parecem na verdade se aproximar do modelo neoconservador, como se ele tivesse atravessado o Atlântico e viesse se posicionar aqui.
Há muitas razões para isso, dentre as quais o afastamento do modelo gaullista [relativo a Charles de Gaulle, presidente de 1959 a 1969]. Sarkozy e Hollande são de uma geração que não conheceu a guerra e foram extremamente influenciados por esse modelo americano.
Há ainda essa ideia messiânica de que os países ocidentais têm um papel de zelar pelos direitos do homem, pela civilização ocidental e pela democracia.
Não é curioso que Hollande, um socialista, se volte para o neoconservadorismo?
Ele parece estar se voltando para um socialismo anterior a de Gaulle, do atlantismo e da ocidentalidade, temas frequentes de seu modelo.
Eles explicam por que ele e o Partido Socialista estão cada vez mais em oposição à esquerda radical, que é muito hostil ao neoconservadorismo.
Há ainda outro elemento: a França se ressente de ter sido conquistada pela Alemanha e, diante do sucesso econômico do vizinho, Hollande quer impor um sucesso militar, para compensar a fraqueza da economia francesa com o Exército. Isso tem se tornado cada vez mais recorrente em sua política externa.
Como a comunidade internacional deve reagir aos ataques?
É difícil imaginar, porque estamos diante de um ineditismo: a internacionalização de um conflito que tocou todo o mundo europeu e norte-americano e que pode desestabilizar fortemente essas sociedades.
As potências não têm o hábito de combater inimigos que não têm a mesma natureza que elas, as mesmas armas, o mesmo modelo de Estado, então não sabem como medir o conflito e as consequências que pode ter.
É possível dizer que a França está em guerra?
Essa é uma frase que tem sido usado o tempo todo depois dos atentados, na imprensa e na política –que “a França está em guerra”.
Esse discurso é muito perigoso, porque não é uma guerra como nos lembramos, em que o país defronta outra nação e seu Exército. É uma violência difusa, com adversários difíceis de identificar.
Dizer que a França está em guerra contra o EI é arriscado porque seria uma guerra que não se pode ganhar, justamente por não ser como as outras, que podem ser vencidas com poderio militar.
Qual caminho pode ser tomado?
A única maneira possível de progredir é a do multilateralismo. Toda intervenção que não é multilateral é uma intervenção de potência, que faz mais mal que bem.
A França é confrontada agora com uma escolha: ou segue no seu caminho ou se aproxima dos colegas europeus e americanos –e de potências emergentes como Brasil ou África do Sul– e passa a pensar que esses conflitos não podem ser resolvidos pela lógica militar, que não são nossos e não podemos adotá-los como se fossem.
Mas como lidar com grupos violentos sem usar a força?
Se esses empreendimentos violentos dão certo é porque em sua base há um problema social muito grave. Deve-se começar a atacar isso diretamente: a insegurança humana e sanitária, a pobreza, o desemprego, a falta de futuro.
E não digo que não devemos usar força contra organizações violentas, mas será que ela tem que ser aplicada por uma só potência? E por que a França mais que o Brasil, o Japão, a China? Será que não é esse o trabalho de organizações regionais ou globais, como a ONU?
Qual será a consequência dos atentados para os refugiados?
Já começaram a relacionar alguns terroristas aos refugiados que chegaram da Síria e do resto do Oriente Médio. Certamente, há um grande risco de que setores da opinião pública usem o que ocorreu para pedir maior vigilância e contenção do fluxo de refugiados.
É um argumento que pode alimentar populistas xenófobos na Europa, que ficarão muito felizes de encontrar um modo de reivindicar firmeza nessa questão.
E para muçulmanos franceses?
Há um risco também muito grande do crescimento da islamofobia na França, porque a opinião pública está chocada, e alguns líderes, especialmente na extrema direita, irão denunciar não o EI, mas o islã como responsável.
Isso pode acabar excluindo ainda mais a comunidade muçulmana, tornar mais difícil sua liberdade de culto. É um risco que o governo francês tem obrigação de vigiar e inibir.
FSP: 16/11/2015
Angela Boldrini e Philippe Scerb. Jornalistas.
Imagem: GivaldoBarbosa – 31.Jan.2011 / Agência O Globo