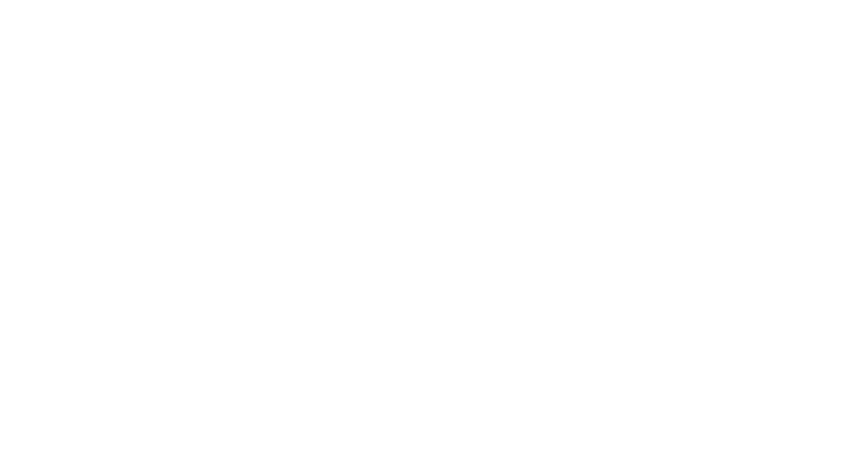Alguns preferem a eloqüência, o brilho do fogo. Outros se valem da imparcialidade, da retórica gélida da objetividade. Gerou-se, entretanto, nesses tempos de perquisições e dúvidas, o dogma da fidelidade ao autor. O intérprete deve ser absolutamente isento, dizem. Não passa de uma contingência inevitável. Nada deve existir entre o criador e o seu público. Todo intermediário adultera. Melhor seria um robô, uma máquina fria sem sentimentos que transcrevesse em sons o que está na partitura.
Há duas falácias nessa concepção. Em primeiro lugar, ela pressupõe uma convicção do compositor que historicamente não se verifica. Bach, Mozart, Beethoven estavam convencidos de que um parceiro desconhecido interviria. E compunham, pois de acordo com esse pressuposto, ou seja, o de que seriam assessorados por terceiros. Suprimir esse interveniente, ou mesmo reduzi-lo a uma expressão mínima, não estaria certamente nas expectativas desses compositores. Aqueles que adotam, pois, essa concepção, fazem como aqueles três escoteiros que, ao serem arguidos quanto à proclamada boa ação cotidiana ao ajudar o ancião a atravessar a avenida, explicaram a magnitude de seu esforço pela relutância do beneficiado que ia em outra direção.
O segundo ponto discutível é que a pretendida isenção do intérprete não deixa de constituir também uma retórica, a menos que seja inteiramente espontânea. Em realidade, o que se deve esperar de uma interpretação inteligente não é nada mais que um relativo equilíbrio e muita espontaneidade, o resto fica por conta da natureza; uns serão efusivos, outros moderados, uns sóbrios, outros eloquentes. O importante é que a expressão seja autêntica. Nada mais exasperante do que o pianista inibido que contém sua própria emoção. Mais vale a exuberância derramada, mas legítima. Por outro lado, também se torna insuportável a expressividade forjada, artificial.
Pois bem, isso dito, é bom deixar claro que há grande margem para que o grau de expressividade do intérprete deva ser aceito. A disciplina e a objetividade de um Pollini ou de um Backhaus nas Sonatas de Beethoven são tão legítimas quanto a sincera emoção de um Kempff. E Beethoven se valoriza igualmente com ambos. Os ouvintes devem fazer suas escolhas. Alguns preferirão a sobriedade, a discrição; outros, a emoção espontaneamente expressa. Para os primeiros não haverá notícia melhor do que a reedição recente, em discos compactos, do ciclo completo das Sonatas para piano de Beethoven por Backhaus.
Essas sonatas foram gravadas em fins da década de 50 e começos da de 60 e a finalidade é mais que satisfatória. Confesso minha inclinação pessoal pela maneira de Kempff, de Arrau, mas não posso deixar de admirar profundamente a retórica da sobriedade de Backhaus. Outra notícia auspiciosa para aqueles que preferem a objetividade simples e direta é a recente gravação das últimas Sonatas de Schubert por Pollini, que reproduzem o estilo aparentemente seco e disciplinado, que o pianista apresentara há pouco mais que dez anos nas últimas Sonatas de Beethoven.
Pollini é um Backhaus italiano, um Toscanini do piano. Seu estilo é talvez o mais polido dentre os grandes pianistas atuais e sua técnica é tão avançada quanto a de Richter, a quem prefiro como intérprete de Schubert, mas que infelizmente ainda não gravou o conjunto das Sonatas desse Opus postumum do compositor vienense.
Nota – Do livro do autor Um Roteiro para Música Clássica. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1992. 705p.
Franz Schubert
“Klaviersonate A-Dur D. 959 – Complete Maurizio Pollini – 1983
https://www.youtube.com/watch?v=EClFYa3APA8&feature=player_detailpage
Créditos de imagem: i.ytimg.com