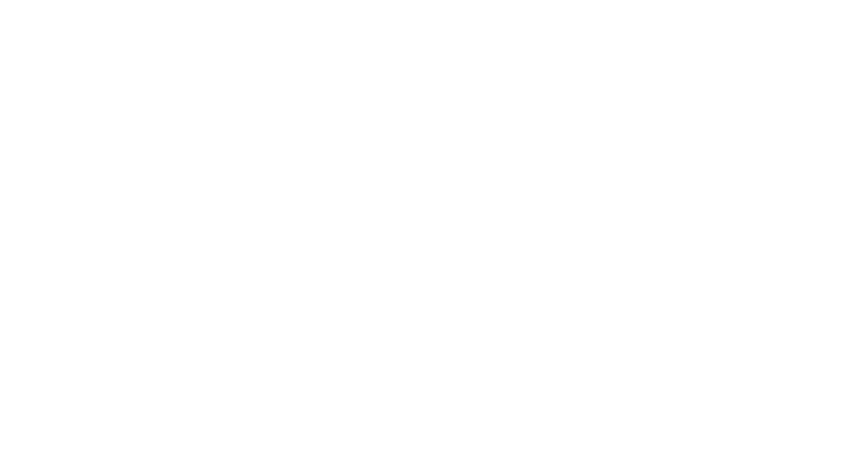Quando, logo após o 6 de agosto de 1945, foram divulgados os lúgubres relatórios sobre Hiroshima e Nagasaki, amplos setores da sociedade passaram a criticar acerbamente aqueles cientistas que, de uma forma ou outra, haviam colaborado na confecção da “arma hedionda”. Durante a segunda metade da década de 30, Otto Hahn, um físico alemão, brincava com algumas equações teóricas da física nuclear. Sete anos depois, quando ficou sabendo de Hiroshima e Nagasaki,caiu em profunda depressão.
Quem poderia ter imaginado que a partir de suas divertidas manipulações algébricas seria, em frações de segundos, arrasada uma cidade e metade de seus habitantes aniquilados.
O dilema certamente não era novo. Desde os primórdios da sociedade humana organizada, “inventores” haviam contribuído para o contínuo aperfeiçoamento dos instrumentos de guerra e destruição. Entretanto, com a bomba atómica, a progressão já não se fazia por graus, mas havia ocorrido uma transformação na essência da “arte de matar”. O homem, como diria posteriormente Koestler, já não era apenas capaz de destruir seus semelhantes, individualmente, mas adquirira a competência para exterminar a própria espécie. Esse aspecto chocara a humanidade embora, até hoje, não tenha sido inteiramente apreendida pela sociedade dos homens a extensão desse potencial destruidor.
Mas até que ponto estaria a responsabilidade da hecatombe concentrada naqueles indivíduos que participaram da concepção e da confecção da bomba, ou mesmo dos membros do governo que decidiram sobre o projeto Manhatan e posteriormente sobre a explosão nos céus do já derrotado Japão?
Consciente ou inconscientemente, o trabalho e as motivações do cientista são dirigidos pelos desejos e necessidades da sociedade de que participa. Se Newton se dedicou à astronomia foi porque havia, devido à navegação, uma necessidade fundamental de melhor conhecimento dos astros. Existia uma necessidade prática, portanto, e a sociedade de uma maneira ou outra deixava transparecer esta sua aspiração. Kepler admitiu a influência da demanda social, criada pela astrologia, em seus estudos sobre mecânica celeste. A busca incessante de Faraday por uma relação entre eletricidade e magnetismo é explicada pela necessidade de fontes de energia, frequentemente expressa pela sociedade daquela época. Maxwell sentiu-se direta ou indiretamente motivado pelos anseios de uma comunidade que já não podia sobreviver à falta de meios mais eficazes de comunicação. E a criação da cibernética por Wiener e outros, ocorreu justamente quando a organização social exigia meios mais eficientes de codificar e distribuir a informação.
O trabalho do cientista é, portanto, o resultado de dois componentes fundamentais. De um lado, uma expectativa explícita da sociedade e de outro os seus impulsos individuais. Mas mesmo esses impulsos, por mais espontâneos que aparentem ser, advém, pelo menos parcialmente, dos anseios e necessidades da sociedade com que convive o cientista.
Dentro destas perspectivas a responsabilidade quanto à bomba de Hiroshima deve ser compartilhada com todo o povo americano e secundariamente com toda a cultura ocidental. A responsabilidade dos cientistas, não obstante, não é reduzida pela coparticipação da sociedade. A responsabilidade como a dignidade é indivisível, e sua intensidade depende fundamentalmente do nível de percepção de cada indivíduo.
Exemplo magnífico dessa sensibilidade nos é fornecido por Santos Dumont. Quando soube que o seu invento, concebido para aumentar o conforto do homem, estava sendo utilizado na primeira grande guerra, afastou-se de suas pesquisas e, ao ser informado da participação do aeroplano na Revolução de 32, suicidou-se. Não procurou desculpar-se com o argumento de que o avião fora inventado para o bem e que outros haviam pervertido seu invento. Assumiu a responsabilidade pelo que havia criado.
Em contraste, os artífices da bomba atômica procuram recompor sua autoestima agarrando-se à contravertida promessa da energia nuclear. Para amenizar seu sentimento de culpa convertem-se em fanáticos defensores daquela tecnologia que mascaram como a salvação da humanidade.
Pervertem o que o cientista tem de melhor, “o hábito da verdade”, como disse Bronowsky, que em conjunto com o exercício quotidiano da observação, determina um elevado nível de percepção para aqueles que exercem profissionalmente a investigação científica. Dessa sensibilidade decorre naturalmente o senso de responsabilidade que faz do cientista um crítico persistente da própria sociedade. Uma parcela desproporcionalmente elevada dos dissidentes soviéticos é constituída de cientistas e não de políticos profissionais. Mesmo no Brasil, em que a comunidade científica era diminuta na década de 60, o número de cassados é extremamente elevado em relação às dimensões de sua classe, apesar do envolvimento partidário do cientista ser apenas eventual na sociedade brasileira.
Outro exemplo da responsabilidade social do cientista é ilustrado pelas reuniões anuais da SBPC, nestes últimos anos, que deixam transparecer o pronunciado envolvimento que a comunidade científica brasileira veio a ter com a vida política de seu país quando outras instituições da sociedade civil foram forçadas a se retrair. Devemos ainda reconhecer que esta característica é acentuada pela condição específica de um país em desenvolvimento.
Este estado de alerta da comunidade científica é por certo auspicioso, mas exige uma contrapartida. Essa coletivização da responsabilidade deveria, por outro lado, beneficiar também o cientista e a Universidade. Entretanto, o que se observa presentemente no Brasil é uma alienação da sociedade em relação às necessidades da ciência e da cultura.
Enquanto o Estado, hoje completamente dissociado da vontade popular, reprime e penaliza a Universidade por sua constante crítica ao poder e pela sua defesa intransigente dos direitos do cidadão, a sociedade, talvez por força de desinformação recusa sua solidariedade à Universidade e à Ciência.
Créditos de imagem: sritweets.com
*Artigo publicado no jornal Folha de São Paulo em 2002