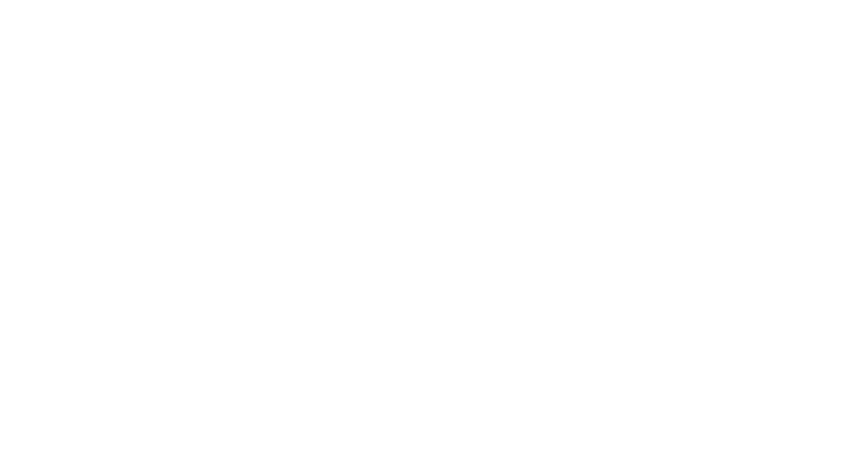Nos dias 13 e 14 de maio de 2015, Barack Obama reuniu-se, respectivamente na Casa Branca e em Camp David, com uma delegação do Conselho de Cooperação do Golfo, a entidade que congrega os chefes das seis monarquias sunitas do Golfo Pérsico. Ao registrar esses eventos, a mídia internacional enfatizou o fato de apenas dois dos seis monarcas interessados haver integrado pessoalmente a delegação que foi aos EUA. Apesar das explicações e desmentidos dos ausentes, e da qualidade dos seus substitutos, prevaleceu a tese de que tinha havido a intenção de expressar insatisfação, e mesmo um certo pânico, diante da política americana de negociar com o Irã xiita a imposição do controle internacional sobre o programa nuclear daquele país, deixando-o contudo em desenvolvimento. Na reunião de Camp David, Obama procurou convencer os delegados árabes de que o acordo em negociação com o Irã não significa tolerância dos EUA para com ações iranianas potencialmente desestabilizadoras do Oriente Próximo. E no comunicado distribuído ao final do encontro, o lado americano reiterou a determinação dos EUA de deter e confrontar qualquer ameaça à integridade territorial das seis monarquias árabes do Golfo.
The Economist (06.06.15) publicou uma rica análise desses desencontros entre Barack Obama e os emires e xeques do Golfo. Lembra o semanário como, durante décadas, imperativos estratégicos – impedir a expansão soviética à sombra da Guerra Fria; garantir o acesso ao petróleo do Golfo Pérsico; apoiar Israel na sua confrontação com os árabes; conter o Irã revolucionário; e mergulhar na fantasia de mudar o regime do Iraque para abrir caminho à democratização do Oriente Próximo – haviam arrastado os EUA a envolver-se em conflitos armados na região. Obama assumiu a Presidência convicto de que seu país já esgotara o quinhão que lhe coubesse nessas guerras. Agora a 25 de maio de 2015, em discurso marcando o dia em que os americanos homenageiam seus mortos em combates, Obama exultou: “Hoje é a primeira vez em 14 anos que comemoramos o Memorial Day sem que os EUA estejam diretamente envolvidos numa guerra de grandes proporções.” A presença militar no Afeganistão, exemplificou o Presidente, está reduzida a um décimo do topo de 100 mil homens a que chegou; e menor, ainda, é o contingente de soldados mantidos no Iraque apenas como treinadores. O fato, porém, é que, muito em razão das próprias intervenções dos EUA, o Oriente Próximo virou um pandemônio, e correntes substanciais de opinião, dentro e fora dos EUA, acusam Obama de não ter uma estratégia para lidar com a confusão. Ele estaria tão preocupado em deslocar para a Ásia-Pacífico o foco da política de segurança americana, que acabou negligenciando o quadro próximo-oriental. Alguns críticos vão até a acusar Obama de um desengajamento deliberado da região, do que seria bom exemplo sua inação diante da guerra na Síria.
Dentre os monarcas que mostraram aborrecimento, não indo ao encontro com Obama, cumpre destacar o da Arábia Saudita, o único, aliás, com o título de Rei. Salman, sexto filho do fundador da dinastia, Abdel Aziz Bin Saud, subiu ao trono a 23 de janeiro de 2015, após o falecimento de seu meio-irmão Abdullah. Apenas coroado, Salman decidiu quebrar a linha de sucessão que privilegiava os filhos do fundador. Outro meio-irmão (de 56 anos e sem filhos) já estava designado para sucedê-lo, mas Salman emitiu decreto colocando como segundo da linha de sucessão seu filho, Muhammad Bin Salman, também nomeado Ministro da Defesa. Pessoa de grande dinamismo. Muhammad assumiu a superintendência da estatal ARAMCO e foi o responsável pela intervenção militar no Iemen. Foram ele e o tio, o herdeiro, que representaram Riad em Camp David.
Ainda evocando The Economist (23.05.15), acrescente-se que os sauditas têm procurado reagir ao caos regional, resultante em grande parte da ação americana, bem como à ameaça dos EUA, com sua revolução do xisto, à liderança saudita no petróleo global, reunindo forças para confrontar o Irã, visto aí como o grande beneficiário dos malfeitos de Washington. A decisão de intervir no Iemen, apresentada como medida de contenção dos houthi, rebeldes xiitas, parece ser na realidade um primeiro passo para desejada aliança militar, modelada na OTAN, entre as monarquias do Golfo. Beneficiando-se, por sua vez, de todos esses desencontros entre os árabes e os EUA, aparece a China. Por enquanto, estimulando as trocas comerciais, em particular na compra de petróleo pelos chineses. O comércio sino-árabe cresceu mais de 600% na última década, chegando a 230 bilhões de dólares, em 2014. Por enquanto, a China não mostra possuir poderio militar ou político para ir além do comércio com os países do Golfo, vendendo-lhes algum armamento leve. Mas já se ouvem, saídos do seio do Conselho de Cooperação do Golfo, prognósticos de um nível mais elevado no relacionamento com a China.
Créditos de imagem: REUTERS/Kevin Lamarque