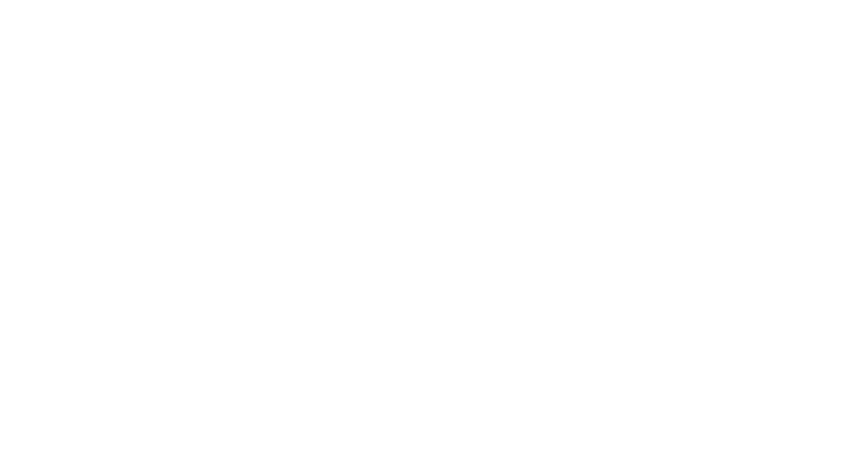(Entrevista com o jurista Marcello Lavenère)
Por Rodrigo Martins
O fim do financiamento empresarial é um remédio eficaz contra a corrupção?
Sem dúvida. É uma antiga reivindicação da sociedade civil. Desde o vereador de um pequeno município até o presidente da República, todos dependiam da ajuda financeira de grandes ou médias empresas, mas essas doações raramente representam um gesto altruísta. Trata-se de um investimento, feito por quem tem expectativa de disputar licitações, fechar contratos com o governo ou influenciar a atuação de parlamentares. São inúmeras as formas de retribuição aos mecenas.
No Senado tramita uma Proposta de Emenda à Constituição que legaliza essas doações.
Não acredito que vai prosperar. O senador Raimundo Lira apresentou um relatório pela rejeição dessa PEC. Caso ela viesse a ser aprovada, ainda haveria a possibilidade de questionar o STF se a medida não agride as cláusulas pétreas da Constituição. De toda forma, vamos manter a mobilização no Congresso para sepultar o financiamento empresarial. O fim dessas contribuições pode trazer maior legitimidade e moralidade para as eleições. Não temos a ilusão de que tal medida, isoladamente, salvará a política de todos os males. Estamos, porém, apertando o cerco.
Os críticos sustentam que a proibição é inócua, só tende a estimular a prática de caixa 2.
Boa parte das críticas emana de quem recebia doações de campanha ou de quem as ofertava. Agora, eles apelam para uma argumentação sofista. O caixa 2 sempre foi proibido e deve ser combatido com maior rigor na fiscalização. Da mesma forma, se houver uma avalanche de doações de pessoas muito ricas, de forma a desequilibrar as disputas, podemos limitá-las no futuro. A Coalizão da Reforma Política havia proposto um teto para as doações individuais, no valor de um salário mínimo. Sugerimos ainda que as contribuições privadas não excedessem o limite de 40% dos gastos da campanha. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, recusou-se, porém, a colocar em votação nosso projeto.
Em dezembro, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre o rito do impeachment contra Dilma Rousseff. Era preciso intervir na questão?
ML: Isso também ocorreu em 1992, após o então presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, acolher o pedido de impeachment contra Fernando Collor. À época, o presidente do STF, Sydney Sanches, convidou o ministro Celso de Mello para redigir uma proposta de regulamento. Era uma peça bastante meticulosa. Num primeiro momento, ficamos entristecidos, imaginávamos que aquele roteiro poderia atrasar demais o julgamento no Congresso. Após o desfecho, fizemos questão de agradecer aos ministros pelo trabalho, sem o qual o processo talvez não teria transcorrido de maneira tão tranquila, com o devido processo legal. A decisão do STF no fim de 2015 caminha na mesma direção, de colocar ordem na casa. Deixou claro para a Câmara dos Deputados, para a comunidade jurídica e para a sociedade em geral, que um processo de impeachment não pode ser manipulado por apenas uma pessoa, como pretendia Eduardo Cunha.
A decisão colocou um freio às maquinações do presidente da Câmara?
Espero que sim, mas ele tem uma mente bastante fértil para tramar as malignidades que pratica. Quando tudo parece certo, surge mais uma manobra ardilosa, seja para influir no impeachment, seja para se proteger das acusações que pesam contra ele. Como foi ostensivamente noticiado, Cunha barganhou com a oposição, depois tentou negociar com os partidos da base do governo. No mesmo dia no qual a bancada do PT anunciou que não iria salvá-lo no Conselho de Ética da Câmara, acolheu a peça contra Dilma. Esse processo de impeachment nasce, portanto, de uma manobra espúria, revanchista. A decisão do STF veio em momento oportuno.
Podemos comparar a situação de Dilma com a de Fernando Collor?
É o mesmo instrumento previsto na Constituição, mas as circunstâncias são radicalmente distintas. Collor foi acusado de receber propina, de ter contas pessoais abastecidas com recursos ilícitos coletados por PC Farias, tesoureiro de sua campanha. Uma CPI mista, integrada por deputados e senadores, investigou o caso por meses. O relatório do senador Amir Lando foi aprovado por aclamação. À época, houve reação espontânea da sociedade brasileira, representada pelo movimento Ética na Política, que não tinha cor partidária, ideológica ou religiosa. Não era uma manifestação só de partidos de oposição, de um único segmento da sociedade. A CNBB, a comunidade judaica, representada pelo rabino Henry Sobel, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, a UNE, a CUT, a OAB, todos estavam unidos pelo impeachment de Collor. Boa parte dessas entidades manifestou-se contra o processo movido contra Dilma.
E por quê?
Não há base legal. “Pedalada fiscal” é uma irregularidade contábil, praticada por vários governantes que precederam Dilma, inclusive pelo vice, Michel Temer, no exercício da Presidência, nas ocasiões em que ela viajou. Agora passa a ser tratada como crime de lesa-majestade. É um mero pretexto usado pela oposição para sacá-la do poder. O impeachment é muito importante para ser usado de maneira irresponsável e ilegítima.
CartaCapital: 27/01/2016.
Rodrigo Martins. Jornalista.
Imagem: Pedro Ladeira/FolhaPress